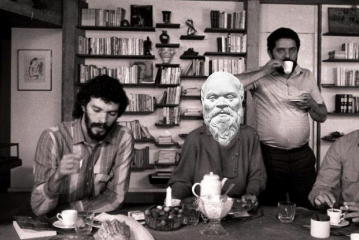De algumas formas contemporâneas de se violentar a democracia democratizando a violência
De algumas formas contemporâneas de se violentar a democracia democratizando a violência[1]
1. INTRODUÇÃO
Resgatar o sentido de palavras esgarçadas pelo senso comum nem sempre é tarefa fácil. Pelo contrário, trata-se de empreendimento que exige esforços capazes de romper com o que parece óbvio, com a força de afirmações que de tão repetidas ao longo do tempo se convertem em certezas blindadas à mínima crítica.
A nosso ver, esse esvaziamento pelo uso corrente e banalizado é justamente o que ocorre atualmente com palavras de destacada importância, tais como democracia, direito, violência, poder, autoridade e força, dentre tantas outras, que, esvaziadas de espírito, servem de invólucro a toda sorte de objetivos e ideologias, muitas vezes contrários, inclusive, aos que lhe conferiram relevância ou dignidade ao longo da história. E, convém ressaltar, a consideração que se acaba de propor de modo algum pressupõe conceitos imobilizados no tempo, em menosprezo ao que há de histórico na construção significante das palavras. Essa mutação, entretanto, não é e não pode ser admitida como flexível ao ponto de desnaturar por completo as significações de que as palavras se fazem portadoras, permitindo que a dignidade e a importância por elas adquiridas com o passar do tempo se prestem a dissimular conteúdos significantes de fato contrários àqueles aos quais deveriam remeter. Dito de outro modo, e a título de exemplo, as ideias de liberdade e igualdade acopladas à palavra democracia não podem ser acriticamente admitidas como anestésicos que somente visam facilitar a imposição de tiranias.
Aliás, se comparada aos outros vocábulos acima destacados, a palavra democracia talvez seja a mais atingida pelas dinâmicas de apropriação perversa que acabamos de denunciar. Para além de sua redução significante a um raso governo da maioria, observamos que diversas formas de despotismo têm se ocultado sob o que atualmente se propala como democracia. Em síntese, operando governos que se afirmam democráticos, os mesmos grupos opressores continuam subjugando os explorados de sempre, com pouquíssimas e insignificantes variações em termos históricos, o que demonstra que a manipulação de palavras no encobrimento de sentidos, se não é capaz de uma efetiva conversão de tiranias em democracias, tem se mostrado muito útil no sentido de tornar mais suave a perpetuação do jugo (Dufour, 2009).
Nesse contexto, torna-se premente o resgate não só das palavras, mas, principalmente, dos limites de seu uso e interpretações. Afinal, uma vez que o habitat natural do humano é a linguagem (Dufour, 2008, p. 171), é a própria sociedade e os sujeitos que a compõem que têm sua realidade ameaçada quando veem as palavras que estruturam seu mundo comum (sua comunidade) perderem-se em relativismos imponderáveis. Ou seja, se o sentido das palavras que estruturam nosso mundo comum – e nos conferem gravidade – é livremente manipulável, o que se deteriora é a nossa realidade[2], podendo-se afirmar com segurança que, se o poder não se exerce e se equilibra pela força das palavras e segundo seus limites significantes, é a dominação pela pura violência que nos espreita. E mais: tendo na linguagem nossa natureza e realidade, é ao absurdo – ao surreal – que nós humanos estaremos fadados se as palavras forem destituídas do núcleo mínimo de certeza que veiculam, com o que nos tornaremos presas fáceis e desprotegidas à dominação violenta e sem limites por qualquer um que venha a se apropriar do poder – inclusive do poder de impor significado às palavras, como nos lembra Humpty Dumpty em diálogo com Alice, no surreal Alice através do espelho, de Lewis Carroll (2009, p. 245)[3]:
“Quando eu uso uma palavra”, disse Humpty Dumpty num tom bastante desdenhoso, “ela significa exatamente o que quero que signifique: nem mais nem menos”.
“A questão é”, disse Alice, “se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes.”
“A questão”, disse Humpty Dumpty, “é saber quem vai mandar – só isto.”
E os riscos até aqui denunciados no que tange ao uso perverso da palavra democracia – tomada como exemplo primeiro – são da mesma forma graves quando se analisam o uso tão banalizado e a deformação pelo senso comum de vocábulos como direito, violência, poder, autoridade e força, já destacadas no início do texto e que serão objeto de análise articulada no curso deste breve estudo. Enfim, emergindo a violência como expressão preponderante de poder na contemporaneidade – inclusive no que diz respeito à manipulação da linguagem –, cabe-nos examinar o que ainda resta de democracia, direito, autoridade e força que possa ser canalizado para a contenção de uma marcha que parece nos conduzir a uma ruptura generalizada, de ordem não só objetiva, mas também subjetiva.
2. A EXPANSÃO DA VIOLÊNCIA ENQUANTO SINTOMA DO DECLÍNIO DA DEMOCRACIA, DA AUTORIDADE E DO DIREITO
Superadas as considerações introdutórias que se entendiam pertinentes, cabe agora destacar que nos valeremos, para a construção deste texto, de palavras e noções que são verdadeiras referências em algumas das obras de Hannah Arendt, como se observa, por exemplo, em relação a poder, autoridade e violência[4]. Entretanto, as conclusões que aqui serão construídas a partir da articulação de tais conceitos estruturantes nem sempre coincidirão com aquelas alcançadas pela filósofa em seus textos, o que se atribui especialmente à distância no tempo e, logo, à diferença de contextos em que palavras como democracia, direito, violência, poder, autoridade e força são tomadas como marcos referenciais e fontes de significação.
Nesse sentido, oportuno ressaltar que a ideia de autoridade encontra-se ainda mais combalida que ao tempo em que analisada por Arendt, da mesma forma que a violência generalizou-se e, se outrora poderia representar uma ameaça de ruptura sempre presente entre nações e estados, hoje se torna um risco real especialmente nas relações intersubjetivas. Ou seja, entendemos que os sintomas antes observados por Arendt ganharam novos contornos e, de certo modo, evoluíram, agravando-se quando se tem em mente o esgarçamento do tecido social e tudo o que isso representa em termos de uma insegurança existencial que vem sendo experimentada pelos sujeitos nas mais diversas formas de mal-estar.
Posto isso, propomo-nos, doravante, a difícil tarefa de tentar interpretar o que parece óbvio, de buscar e apontar sentidos possíveis para palavras massacradas por uma prolongada e persistente banalização, em processos de amálgama significante que resultam na sedimentação de um senso comum que termina por empobrecer a linguagem e anestesiar a necessária crítica a que seu uso deve estar sempre submetido, de modo a evitar que se converta em mais um instrumento de dominação.
Inaugurando esse percurso, portanto, cabe examinar os sentidos veiculados pela palavra violência, diferenciando-os daqueles que se expressam pela palavra força – o que será de fundamental importância para o desenvolvimento das articulações significantes que estruturam este trabalho. Assim, entendemos que, enquanto violência sempre é expressão de excesso, abuso, violação de limites, a palavra força melhor designa uma manifestação contida de poder; noutros termos, podemos identificar na força uma expressão positiva de poder e na violência, uma expressão negativa – a indicar um uso excessivo, abusivo da força, que dessa forma se converte em violência. O poder, por sua vez, é aqui tomado como potência, energia disponível a ser canalizada para qualquer fim, seja de conservação, seja de criação ou destruição, de modo que tanto pode se manifestar como força – positivamente – ou como violência – negativamente.
Temos, então, que, tratando-se o poder de uma realidade que não pode ser esgotada ou definitivamente contida pela linguagem – pelo simbólico, em última análise –, uma das questões centrais para o processo civilizatório é justamente a de canalizá-lo a serviço do trabalho de cultura[5], de conservação e ampliação do bem-estar da comunidade humana[6]. Referimo-nos, dessa forma, aos mecanismos sublimatórios a partir dos quais, evitando sua destruição pela violência, se busca assegurar, com apoio na razão e na força, a conservação do pacto social e a criação das condições que tornem possível um futuro melhor para a humanidade.
Dentre esses mecanismos sublimatórios, destacamos o direito, enquanto sistema – e instrumento – viabilizador da coexistência de liberdades (Kant, 2013, p. 50). Compreendemos o direito, pois, como um dos principais – talvez o principal – artifícios criados pela razão humana para o fim de canalizar o poder e sublimá-lo com o objetivo de assegurar a continuidade do trabalho de cultura, o que implica um esforço incessante para conter a violência nos limites racionais da força.
Certo é que, tratando-se de construções humanas que devem perpassar gerações e garantir a marcha civilizatória, a harmonia dessas dinâmicas de sublimação depende da eficácia do discurso e da ação de sujeitos que ocupem lugares de representação – e de exceção (Lebrun, 2008) – enquanto autoridades legitimadas por uma instância que a um só tempo se aproxime ao máximo do poder[7] e transcenda a coletividade (Dufour, 2008). Temos, pois, que é por intermédio da autoridade que o poder é convertido em força motora do trabalho de cultura e investido nos processos de transmissão intergeracional de uma ordem capaz de, a um só tempo, proteger e fazer avançar a civilização.
Nesse sentido, a autoridade reúne em si as funções de representação da instância de que emana o poder, de guardiã e difusora da ordem estabelecida em nome desse poder e, por fim, de sua catalisadora (do poder), na medida em que pode e deve se valer da força necessária a conter qualquer violência que seja dirigida contra a ordem cuja estabilidade e avanço lhe caiba resguardar[8] – no que termina por reafirmar a ordem vigente enquanto amplifica a expressão e as impressões do poder que a sustenta (Hegel, 1997). Note-se que, no sistema proposto, o direito pode ser tomado como a forma mais concreta de manifestação das ordens estabelecidas segundo a variação das instâncias depositárias do poder ao longo da história, no que se refere a um lugar já ocupado por deuses, mas que se vê esvaziado pelas democracias contemporâneas (Lefort, 2011).
Ou seja, com especial apoio no ensino de Lefort (2011) e de Lebrun (2004) – que se reporta a Lefort para estruturar suas construções teóricas –, podemos afirmar que, idealmente, a democracia contemporânea se trata de regime político que aloca o poder em um lugar vazio, o que há de ser compreendido como decorrência de um processo de apropriação racional do mundo, ao longo do qual a evolução do saber foi determinante a uma progressiva desmistificação do lugar de poder, que já não se faz ocupado por deuses ou instâncias míticas[9]. Dizemos, portanto, de um processo tão longo quanto a experiência humana, no curso do qual os avanços da razão foram tornando inviáveis a dominação tirânica sustentada por mitos, deuses ou até mesmo por tradições simples e sem fundamento racional.
Posto isso, quando afirmamos que o lugar do poder é hoje um lugar vazio, resgatamos toda a história humana e o trabalho de cultura realizado em busca de uma emancipação racional, isto é, remetemos a todo processo de desenvolvimento da racionalidade que é distintiva do ser humano e que nos garante uma visão do mundo em perspectiva, o distanciamento em relação à coisa e a possibilidade de sua apropriação simbólica pela linguagem. E, na medida em que se apropria do mundo no qual interage, mas do qual não é parte naturalmente integrada – como se dá com os animais, fechados no mundo (Agamben, 2011) –, o ser humano termina por desencantá-lo (Gauchet, 2005), emancipando-se em relação aos mitos e deuses de que antes dependia para explicar sua existência e o universo em que ela se passa. Em síntese: explicando o mundo por sua própria razão, o ser humano progressivamente perde a sustentação que antes extraía de instâncias míticas e divinas, de modo que passa a ter de se sustentar no vazio de seus próprios mistérios, na falta inerente à sua condição de ser falante (Lebrun, 2008), distanciado em relação às coisas que o cercam e que tem na cultura sua desnaturada natureza.
Assim, segundo o ideal contemporâneo de democracia, não havendo deuses, mitos ou tradições que dele se apropriem com exclusividade, o poder é doravante tomado como potência que flui pelas relações humanas e que deve ser canalizada a partir do jogo político estabelecido por sujeitos presumidamente livres e iguais. Com isso, temos que, a partir de um processo democrático de apropriação racional e flexível do poder – que, em tese, sempre pode mudar de mãos, segundo a escolha de sujeitos politicamente ativos –, o direito e a autoridade passam a ter por fundamentos legitimantes a proteção e a ampliação da liberdade e igualdade dos sujeitos, o uso da força passando a justificar-se somente diante da violência ou ameaça de violência contra esses princípios – liberdade e igualdade dos sujeitos.
Porém, considerado em termos ideais, embora um tal projeto democrático não desafie maiores reparos, observa-se que, na prática, sua implementação esbarra em complicadores nada abstratos. Dentre tais obstáculos, destacamos o fato de que o bom funcionamento de uma democracia de cidadania plena, com cidadãos livres e iguais – tal como contemporaneamente proposta (e, muitas vezes, suposta) – pressupõe sujeitos autônomos, emancipados de autoritarismos e, justamente por isso, cientes da necessidade de autoridades que representem um direito capaz de assegurar liberdade e igualdade em níveis máximos a cada cidadão, eficaz em assegurar o uso legítimo da força em contenção à violência disruptiva do pacto social.
Surgem, então, algumas questões não superadas que terminam por emperrar nosso ideal de democracia. Em alguns casos, inclusive, a perversão do discurso democrático chega ao ponto de dissimular graves retrocessos sob novas formas de tirania e servidão. E isso, segundo pensamos, especialmente por duas razões. Primeiramente, porque as revoluções da razão não foram suficientes a uma equivalente transformação política das sociedades, de modo que ainda não se pode concluir por uma consumada emancipação dos sujeitos em relação ao autoritarismo – embora se trate de condição veementemente recusada. Ou seja, de uma forma geral, diante de crises, em nome de uma segurança ilusória, o sujeito ainda reclama por um Pai autoritário que por ele decida e escolha, no que se perpetua a lógica da servidão voluntária (La Boétie, 1999). Em segundo lugar, e como consequência lógica do que se acaba de afirmar, uma vez que ainda não emancipado e autônomo ao ponto de (re)conhecer seus próprios limites – permanecendo na dependência de figuras autoritárias que os apontem –, o sujeito contemporâneo tende a confundir os referidos níveis máximos de liberdade e igualdade, que hão de ser resguardados pela democracia, com uma garantia de liberdade e igualdade absolutas.
Ocorre que, equivalendo a uma recusa generalizada aos lugares de exceção (Lebrun, 2008) a partir dos quais o direito pode ser posto e afirmado por autoridades – de modo a possibilitar a coexistência de sujeitos livres e iguais, embora diferentes –, a crença difundida e aplicada em liberdades e igualdades absolutas termina por inviabilizar qualquer tipo de ordem que não aquela imediatamente imposta pelo mais forte por meios violentos. Observa-se, nessa dinâmica, que, da forma como vem ocorrendo, a expansão democrática observada nas últimas décadas talvez possa ser apontada como a causa primeira de certos fenômenos que mais adiante podem ser determinantes de sua própria ruína.
Afinal, retomando o raciocínio antes iniciado, se entre sujeitos absolutamente livres e iguais não há espaço para exceções a partir das quais o direito possa ser posto e as autoridades possam afirmá-lo – de modo a sublimar o poder e resguardar o trabalho de cultura inclusive pelo uso legítimo da força –, é a violência que emerge agora já não mais restrita ao jogo político das nações, mas como elemento ordinário que atravessa as relações interpessoais. Em suma, a confusão generalizada envolvendo a crença difundida em liberdades e igualdades absolutas (Lebrun, 2008), ao elidir os lugares de exceção, corrói o próprio pacto social, na medida em que afeta todo o espaço de transcendência em que se situavam os ideais comuns capazes de reunir os sujeitos em esforços de preservação e expansão civilizatória (Dufour, 2008). Se cada sujeito é absolutamente igual e livre em relação aos demais, resta concluir que também são absolutos seus direitos, não havendo autoridade legitimada a contê-lo ou impor-lhe deveres – uma vez que ninguém pode limitar sua liberdade, haja vista que ninguém lhe é desigual, estando acima de sua vontade ao ponto de poder restringi-la.
Percebe-se, nesses circuitos, a marca de um excesso – de liberdade e igualdade –, em que a força tende a se perverter em violência e no qual um certo esquecimento induzido quanto à necessidade de limites em tudo o que é humano – a falta estando na base de nossa condição – termina por deslegitimar qualquer forma de autoridade. Esse estado de coisas, no fim das contas, coloca em risco a própria democracia, uma vez que, ao anúncio do caos social pela disseminação da violência em todas as suas variadas formas (o que inclui a violência estatal e, portanto, a corrupção), é pela intervenção tirânica que clamarão em coro os sujeitos não emancipados.
Isso inclusive explica, ao menos em parte, a grande adesão na Europa e nas Américas a discursos neofascistas, sempre marcados pela identificação de um inimigo – ou de inimigos – prêt-à-porter, bem como por suas respostas simplistas e radicais para problemas historicamente complexos. Aliás, analisando a questão com a devida complexidade, Marcel Gauchet (2009) identifica na base da despolitização do sujeito contemporâneo a paulatina substituição de seu agir e de seu discursar por uma abrangente intervenção estatal de caráter democrático[10]. Ou seja, avocando progressivamente para si o dever de atender às necessidades dos cidadãos – algumas delas nem tão essenciais – numa missão dita democrática, o Estado e suas estruturas terminam contribuindo para o esmaecimento do senso de cidadania e, logo, de responsabilidade por parte dos sujeitos em relação à sociedade que os precede, “a esfera pública invadida pela afirmação das identidades privadas” (Gauchet, 2009, p. 252).
E, por todo o exposto, se o interesse público sucumbe às identidades e vontades privadas, não há democracia, direito ou autoridade que resistam para estabelecer os limites racionais de uso da força enquanto expressão positiva do poder, o que resulta na preponderância da violência nas relações, sejam as estabelecidas entre pessoas, sejam as havidas entre estados ou nações.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se percebe, a depender de seu uso, as palavras nem sempre se apresentam como fiéis representantes da realidade e, pelo contrário, uma vez que também funcionam como bússolas para o sujeito situar-se no mundo, podem mesmo ser empregadas para confundi-lo nas direções a serem tomadas e, assim, submetê-lo mais facilmente a todo tipo de jugo. Refere-se, portanto, ao uso violento da palavra, em que sua força conformadora da realidade humana acaba a serviço da dominação, a adulteração de seus sentidos reduzindo-a a instrumento de conversão de liberdade e igualdade em império do mais forte, de dissimulação de tiranias a partir de afirmadas democracias.
Dizemos, com isso, que a progressiva desconexão das palavras em relação às verdades de que se fazem portadoras pode ser determinante de graves efeitos disruptivos sobre o pacto social, na medida em que uma tal banalização da linguagem sinaliza uma quebra de compromissos fundamentais em torno de princípios transcendentes capazes de permitir que os sujeitos se comuniquem e se reúnam a partir de referenciais e horizontes comuns (Dufour, 2008), capazes de orientar a construção e o compartilhamento de uma mesma realidade.
Ou seja, a ameaça à palavra a partir de uma licenciosa manipulação de seus sentidos atinge, em última análise, a própria condição humana. Afinal, dada a desintegração do sujeito em relação ao mundo natural e sua dependência da linguagem para forjar pela cultura seu lugar no universo, tem-se que é sua própria existência que lhe escapa se as palavras já não lhe servem como referência minimamente segura.
O aviltamento da palavra, portanto, é indicativo da degradação da própria civilização, da erosão de estruturas que historicamente marcam todo o trabalho de cultura, como é o caso do direito e da autoridade, que dependem da força do verbo para assegurar aos sujeitos a liberdade e a igualdade que jamais florescerão enquanto se insistir em dissimular os excessos da violência sob o nome democracia. Tarefa difícil em tempos de sujeitos e sociedades que recusam a realidade de que o absoluto não é humano, nem mesmo a liberdade ou a igualdade, sendo urgentes os debates, as reflexões, os discursos e as ações que se proponham a resgatar a dignidade de nossos limites e a fecundidade de nossa condição faltosa. E há pressa, porque são ruidosos os prenúncios de que, incapazes de estabelecermos nossos próprios limites, novamente o Pai Tirânico poderá ser convocado a fazê-lo pelas massas cansadas de gozo, que já não suportam o sufocamento pelos excessos de uma violência democratizada por tão absolutas liberdades e igualdades.
REFERÊNCIAS
Agamben, G. (2011). O aberto. O homem e o animal. Lisboa: Edições 70.
Arendt, H. (2009). Entre o passado e o futuro (6ª ed.). São Paulo: Perspectiva.
Arendt, H. (2010). A condição humana (11ª ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Arendt, H. (2011). Sobre a violência (3ª ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Carroll, L. (2009). Aventuras de Alice no País das Maravilhas; Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar.
Dahl, R. A. (2001). Sobre a democracia. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
Dufour, D.R. (2008). O divino mercado: a revolução cultural liberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
Dufour, D.R. (2009). La gouvernance comme nouvelle forme de contrôle social. Connexions 1/2009 (n° 91), p. 41-54 (disponível em: https://www.cairn.info/revue-connexions-2009-1-page-41.htm).
Dufour, D.R. (2013). A cidade perversa: liberalismo e pornografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Freud, S. (1997). O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago Ed.
Gauchet, M. (2005). El desencantamento del mundo. Una historia política de la religión. Madrid: Editorial Trotta/Universidade de Granada.
Gauchet, M. (2009). A democracia contra ela mesma. São Paulo: Radical Livros.
Hegel, G.W.F. (1997). Princípios da filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes.
Kant, I. (2013). Doutrina do direito (4ª ed). São Paulo: Ícone.
La Boétie, E. (1999). Discurso da servidão voluntária. São Paulo: Brasiliense.
Lebrun, J.P. (2004). Um mundo sem limites: ensaio para uma clínica psicanalítica do social. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
Lebrun, J.P. (2008). A perversão comum: viver juntos sem outro. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
Lefort, C. (2011)
A invenção democrática: os limites da
dominação totalitária (3ª ed.). Belo Horizonte: Autêntica.
[1] Originalmente publicado em Violência (s): diálogos com a psicanálise (Organizadores: Jacqueline de Oliveira Moreira, Fuad Kyrillos Neto e Angela Buciano do Rosário. Curitiba: CRV, 2016. ps. 43-53).
[2] “A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos (…).” (Arendt, 2010, p. 61).
[3] É da obra de Robert A. Dahl (2001, p. 115) que extraímos a exploração do diálogo em questão como forma de bem ilustrar a tirania que se revela pelo poder de manipular as palavras, tratando o autor americano especificamente do uso perverso e banalizado da palavra democracia.
[4] Nesse sentido, vale a leitura de Entre o passado e o futuro (2009)e de Sobre a violência (2011).
[5] Segundo Freud (1997), o trabalho de cultura pode ser definido como a “soma integral das realizações e regulamentos que distinguem nossas vidas das de nossos antepassados animais, e que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos” (p. 41-42).
[6] O que, para muitos, poderia resumir o ideal moderno.
[7] Ou, mesmo, se apresente como fonte de poder, como se dava no caso das ordens supostamente fundadas e autorizadas por uma instância divina.
[8] Tomando por referência a preservação da humanidade e o projeto de um futuro comum, necessário destacar os casos em que a resistência a uma determinada ordem posta é expressão de força e não de violência, na medida em que tal ordem, ainda que se afirme legítima, se expressa pela violência e não pela força. Aliás, em certa medida, é justamente do que tratamos neste estudo.
[9] Vale destacar que a análise e conclusões aqui expostas restringem-se ao que chamamos de mundo ocidental.
[10] Não à toa, a obra de Marcel Gauchet a que se refere é intitulada “a democracia contra ela mesma”.