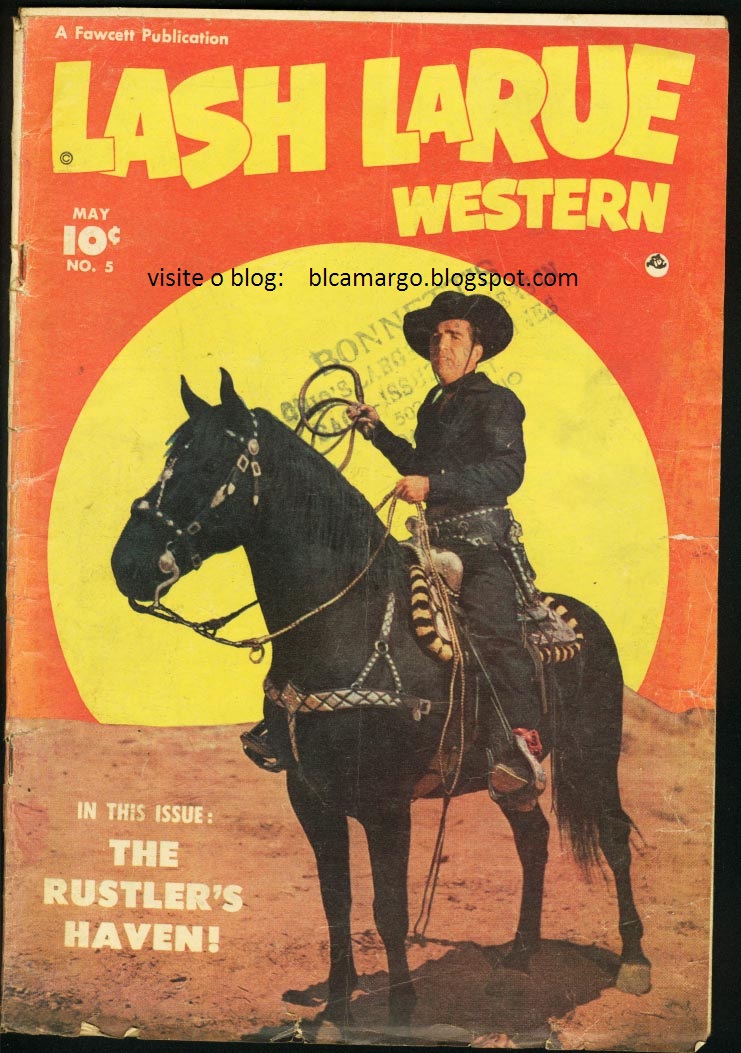As telas, a liberdade e o medo

As telas, a liberdade e o medo
Nascido em 1979, sou daqueles que tiveram o privilégio de crescer nas ruas, entre brincadeiras entremeadas por algumas trocas de sopapos, dentre outras coisas nem tão saudáveis, talvez até um pouco violentas. Mas o privilégio e as aventuras não terminam por aí. Essas ruas, que eram nossas e onde passei minha infância e parte da adolescência, pertenciam a um bairro pobre de uma cidade do interior de Minas Gerais. Lá, estudei em escolas públicas – àquele tempo, naquela cidade, nem havia escolas particulares –, nas quais conviviam, entre conflitos e harmonias, pretos, brancos, pardos, amarelos, verdes, pobres, muito pobres, remediados etc. Ricos, não os conhecia.
Daqueles tempos até hoje, muita coisa mudou. Pouca coisa daquele mundo ainda existe. E não é do rádio a pilha pra ouvir o futebol ou do videocassete que sinto falta. O que me faz nostálgico e me traz bastante preocupação é a perda da rua e tudo o que isso representa, enquanto metáfora do fim do convívio face a face e, em última análise, da perda de empatia, que, a meu ver, é a marca de nossos tempos.
Enquanto tínhamos a rua, sabíamos da existência do outro, do quanto nossos outros eram iguais a nós, mesmo que diferentes. Sabíamos que, assim como nós, os outros sangravam; que tinham sofrimentos os mais variados, saudades dos parentes mortos, sofrimento pela avó doente e o pai alcoolista, preocupação com a depressão da mãe, ressentimento pela falta de condições de estudar ou, mesmo, desespero por não ter recursos para comprar o gás. De igual modo, sabíamos que os outros, assim como nós, também se alegravam na roda de samba de domingo – especialmente quando sucedia a construção da laje, em mutirão –, com a formatura do filho, com a vitória do time do coração, com a bola de futebol nova, com o olhar da menina bonita que fazia sonhar…
Enfim, diferentemente de hoje, as telas não nos separavam dos outros, que sempre estavam ali, reais, vivos e falantes para nos lembrar das medidas que nos diferenciavam, mas, principalmente, de tudo que nos igualava. Aqueles outros que nos contavam histórias, que falavam de si e de outros outros. Outros que, conosco, faziam possível um nós, a construção de uma história comum, o sonho de um futuro partilhado.
Àquele tempo, a difusão de telas de computadores e celulares ainda não havia nos privado da rua e do convívio com esses outros. As telas ainda não haviam criado esse rebanho de seres autocentrados que se locomovem pelas ruas com fones de ouvido e olhar vidrado, imunes ao que seja outro. E como nos blindamos do olhar do outro e preferimos focar as telas a olhar para o outro, vamos, progressivamente (regressivamente?), nos esquecendo do quanto esse outro é igual a nós, inclusive em sua necessidade de ser diferente. Esquecemo-nos do quanto há desse outro em nós e do quanto há de nós nesse outro, em lugar de quem já não conseguimos nos colocar, cujo sofrimento e dificuldades já não nos dizem respeito.
Está, assim, preparado o caminho para que esse outro que não nos diz respeito só se apresente a nós como rival, um adversário que devemos odiar por não se limitar a nos servir de espelho, por não pensar como nós ou ser uma simples extensão de nossas vontades imediatas. O problema é que também somos outros de outros que, não nos reconhecendo como iguais – logo, diferentes –, tendem a nos odiar e nos submeter com o instrumento que tiverem à disposição, que tanto pode ser o poder econômico como aquele que se tem quando se empunha uma arma.
Nesse percurso, só não devemos nos esquecer de que, ao abandonar os outros, abandonamos a nós mesmos, de modo que o ódio e desprezo que a eles dirigimos tende a, cedo ou tarde, se voltar contra nós mesmos. Afinal, o problema de se desprezar a empatia e cultuar a lei do mais forte – viva a meritocracia! – é que sempre haverá alguém mais forte que nós, que nos odiará e não nos reconhecerá ao ponto de também querer nos destruir.
O que vamos trocando na tela, portanto, é a liberdade pelo medo.